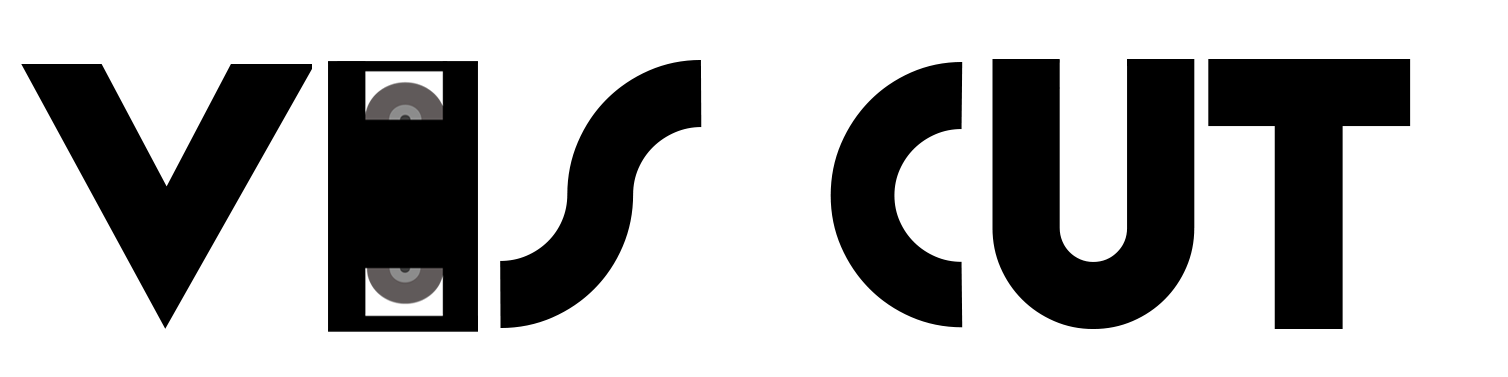Há contextos cinematográficos, como o de Hollywood, em que o uso de formalidades técnicas tende a revelar dois lados de uma mesma moeda: ou o resultado surpreende pela maneira como tais elementos se fundem em tela, ou se revela, a partir disso, uma profunda – e na maioria das vezes extremamente calculada – tentativa de provar o valor investido em uma boa lente, em cenários exímios ou em tratamentos e pós-tratamentos de ponta. Meu Semba, filme do diretor Hugo Salvaterra, esbanja formalidades, e o faz para expor infinitas coisas, sobretudo a beleza, que, por si só, se revela aqui através desses infinitos.
São infinitas as palavras que o protagonista X profere no decorrer do longa, em diferentes situações. Todas elas são bonitas e, por isso, a beleza circunda o drama de uma forma um pouco distinta do que se poderia pressupor. O filme acompanha X, um jovem que atravessa as turbulências de viver em Luanda, uma cidade marcada por forças e dilemas que ecoam em tantas megacidades africanas. Ao lado dos irmãos, Lele e Maria, ele encontra na arte um abrigo, questiona a própria fé e se sustenta na cumplicidade do laço fraterno. A partir disso, cria-se uma teia de situações que passa a explorar não apenas a presença desses jovens na cidade e as consequências modernas da desigualdade e da injustiça, mas também um foco necessário nas relações e nos relacionamentos, o que revela uma dinâmica bastante interessante de representação. É como se o filme conseguisse transmitir sua temática central envolta em beleza e, de certa forma, em superação, por meio de um entorno narrativo que instiga o presente das relações, do convívio e da palavra.
É um movimento inteligente, pois, se por um lado é muito efetivo na transmissão de mensagens e na construção de representações, Meu Semba também expõe dilemas e questões da própria comunidade que defende, brincando com a contradição de seus temas. É fundamental, seja do ponto de vista social ou artístico, que exista essa balança quando se busca, através das lentes, retratar e combinar símbolos – a palavra, a beleza, a cidade – sem pesar excessivamente a mão sobre um ponto e ignorar outros. Em uma das cenas mais interessantes, estamos no centro do que aqui, no Brasil, se chamaria de batalha de rima: vários jovens ocupam um galpão, vivem uma cena underground e colocam em prática os principais pontos do filme. Dali emergem experiências e situações que compensam o sentido exploratório do diretor e a incrível performance dos atores, capazes de nos oferecer um banho e, sem querer ser piegas, de arte.

Bruxaria e cristianismo, o sagrado e o profano, coexistem no cinema e não é de hoje. De formas distintas, é verdade: às vezes de maneira literal, outras de forma chocante. É o caso de exemplos como The Devils (1971), de Ken Russell, que apresentava bruxas possuídas e que hoje seria facilmente enquadrado como terror ou horror religioso. O Profeta, filme de Ique Langa, que narra a história de Helder, um pastor evangélico que vive na vila de Manjacaze, em Moçambique, e que busca apoio espiritual na bruxaria, já que seus dons como pastor não rendem frutos aos fiéis, propõe trabalhar esse quase dilema sem abrir mão das questões que pertencem ao contexto em que foi filmado.
Pode-se dizer que o filme acerta muito bem ao oferecer uma demonstração bastante real, de realidade mesmo, de como a religião atua em contextos pobres e vulneráveis. Mais do que isso, torna evidente o fascínio humano pelo desconhecido, pela admiração e pela serventia sobrenatural àquilo que pode, de alguma forma, trazer benefícios individuais e coletivos. O realismo da filmagem chama atenção, e o preto e branco enriquece a imagem sobretudo ao tornar mais palatável a maneira como a bruxaria é apresentada aqui, sem apelo fantasioso ou algo do tipo. Por isso, as cenas que envolvem uma espécie de rito são filmadas com ares de suspense e de terror paranormal. A tensão é parte fundamental dos elementos que constroem essa impressão, sobretudo pelos diálogos e pelos planos que se arrastam pelos espaços, edificando um habitat para que a narrativa ganhe corpo.
É mérito de uma fotografia que amplia o local – a vila – e faz com que ela pareça maior do que realmente é, mesmo sendo pequena e modesta. Esse tipo de preenchimento confere um visual que dialoga diretamente com a proposta do diretor: oferecer à bruxaria um tratamento complexo, como se, naquela realidade, tudo recorresse a ela, mesmo quando se trata de algo que se opõe aos valores canônicos do cristianismo. Há que se pensar, portanto, nos meios utilizados e em como tudo parece se chocar próximo do desfecho, com uma espécie de redenção ambígua. É nesse ponto que o sagrado e o profano convergem na ação humana, pois a racionalidade do desejo e da recompensa, valores nos quais as religiões, independentemente de quais sejam, parecem se apoiar, passam a ganhar novos contornos aqui.

Como um bom filme-ensaio, La belle année recorre à estrutura de colcha de retalhos para organizar seu sentido narrativo, fazendo uso de elementos extras das filmagens e impondo-se por recortes, cenas de época e uma centena de tratamentos que parecem se condensar em texturas. É um trabalho primoroso neste sentido, pois mobiliza sentimentos como luto e saudade sem apelar para maneirismos, mesmo quando os signos utilizados para alcançá-los são, de certa forma, comuns: uma casa, seus objetos, a lembrança da vida que ali existiu. Há quem possa dizer que Sentimental Value fez algo parecido, aqui também existe a relação com um ente familiar que parte. Mas tratam-se de obras distintas, em estados quase opostos de exposição, já que o que temos em La belle année é um documentário que funciona como uma ode aos signos que formam nosso pensamento e moldam nossas relações em diferentes momentos da vida. Por isso, filmagens da infância e da adolescência da protagonista, além de diários, cartas e fotografias, surgem em tela para reafirmar essa relação constante entre passado e presente.
Enquanto Sentimental Value se nega a perfurar essas camadas, La belle année avança sobre elas e revela mais do íntimo do que quem assiste talvez espere. O momento em que expõe a paixonite adolescente por sua professora de história, como traço fiel de uma adolescência descompassada – representada por cenas belíssimas de desejo e atração sáficos – cria uma relação que parece suprimir o sentimento que recompõe as memórias sentadas à mesa. Trata-se de uma sensibilidade que talvez nem mesmo a latência do prestígio pelo tempo vivido consiga descrever, e é justamente por isso que o filme emociona ao mesmo tempo em que provoca identificação. No centro disso tudo está a família, o lar, perturbado por essas contravenções sociais que ninguém além de si mesma pode compreender, e que Angélica Ruffier retrata sem medo, sem receio de parecer brega. Ela entende que a parte funcional de um documentário reside na sinceridade, ou talvez na transmissão de amparo à realidade dos acontecimentos, algo com o qual conscientemente parece não se preocupar em suavizar, ainda bem.
À medida que avança, o filme se organiza como uma espécie de passo a passo de acerto de contas. A imagem torna-se mais crua e trêmula nos instantes em que precisa expelir causa e consequência dos sentimentos apontados, e em todos esses momentos o luto permanece. É tocante a maneira como a morte pode nos conduzir a lugares da nossa própria vida que, fora desse acontecimento fatídico, sequer nos importaríamos em revisitar. Daí o foco, talvez um pouco exagerado, nesse retorno simbólico aos momentos e à forma como eles são constantemente reconstruídos em nosso imaginário. Felizmente, Ruffier sabe lidar bem com isso, pois quando a ficha cai e entendemos que se trata de um documentário, que os fatos apresentados são reais e que tudo de fato aconteceu, resta a emoção de perceber como os cenários conturbados de nossas vidas podem render um material que extrapola o sentido imagético e trabalha a linguagem como meio de superação e de conforto. É, sem dúvida, uma das coisas mais emocionantes e bonitas de 2026.