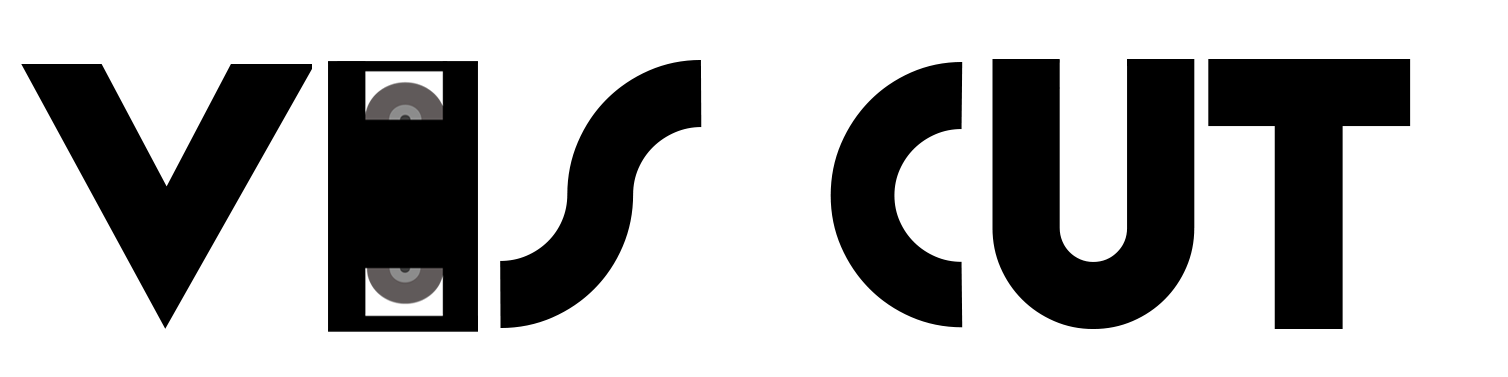É engraçado pensar que em algum momento existiu a ideia do cinema sensorial, aquele que estimula os sentidos anatômicos (visão, audição, tato imaginado e até olfato), como se a filmagem (metragem) e o filme, por si só, não denotassem a capacidade de despertar esses e outros os sentidos mais amplos no espectador. Por outro lado, é engraçado, porque o que temos nessa abordagem dita sensorial são nomes como Terrence Malick e, mais diretamente, Gaspar Noé. O que eles fazem, para além de qualquer classificação de gênero, é cinema, e isso anula também qualquer justificativa para diferenciar seus trabalhos (supostamente sensoriais) daqueles que não seguem o mesmo estilo. Gosto de pensar em como Le Lac, de Fabrice Aragno, é um exemplo potencial de distinção desses aspectos sensoriais.
O filme se encaixaria perfeitamente nisso: o movimento da água é capturado de diferentes maneiras, em diferentes lugares, tempos e iluminações. Há som, emoldurado pelo silêncio dos atores e pelo ruído do ambiente em que se encontram: as vozes das pessoas à beira do lago, o som do trem, passos e o vento. Outrora, não havia som, silêncio absoluto, e ainda assim algo estava sendo dito. É um esforço deslumbrante, de beleza, para contrariar uma linearidade narrativa, pois enquanto filma o desenrolar de um casal que se joga em uma corrida de vela que dura vários dias e noites em um grande lago, Fabrice Aragno nunca deixa de mostrar o que os cerca ali: a vida, a luz da cidade ao fundo, os barcos alheios. Se explica por uma sensibilidade que, em vez de mostrar que eles estão sozinhos – e de fato estão –, também mostra que não estão.
Nesse ponto, o filme sugere uma dúzia de pressupostos sensoriais. Nos momentos em que diminui os frames, e a imagem quase congela, trava e se arrasta por movimentos lentos, é como se Fabrice Aragno se separasse de nós e se concentrasse mais no que pretende expor ali, não como alguém que conta uma história, mas como alguém que a vive. Há romance: toques delicados, beijos escondidos e uma companhia, uma mutualidade, que nos faz questionar a realidade dos papéis em questão, construídos de forma muito orgânica e íntima. É uma interação imensa, uma carta branca: agora é você quem vive. E vivemos, minuto a minuto, não como a proposta de um diretor de codificar sua linguagem para apresentar esses desafios sensoriais ao espectador; ele simplesmente filma dessa forma, e a forma do cinema de existir é responsável por traduzir tudo, por tornar palpável o ponto de vista do diretor.

Tóc, giấy và nước… (Hair, Paper, Water…) é um excepcional exercício de linguagem. A estrutura híbrida que mescla ficção com documentário sob uma ótica local e regional estende, sobre a narrativa, um tapete costurado à mão, com a familiaridade expositiva do cinema asiático, partindo de cores e tons, processados por granulados afáveis, que se mantêm os mesmos do começo ao fim. Há, por isso, um sinal de clareza no que a direção de Nicolas Graux e Trương Minh Quý busca, e por isso encontramos um pouco de cada um ao longo do filme, não de maneira segregada, que entra em conflito, mas próxima, numa coreografia que instiga pela exímia ligação e transposição de ideias por osmose.
Enquanto Trương Minh Quý parece tratar de aspectos que circundam sua realidade – já que se trata de uma filmagem feita em seu contexto de pátria –, suas observações transitam entre contos, recontos e quase lendas que miram numa construção íntima e visualmente astuta, capturando cenários marcados pela vida bucólica, interiorana e que dialoga com a natureza num mutualismo que evita maiores descrições. Enquanto isso, Nicolas Graux parece organizar as demais marcas sociopolíticas, as motivações de foco específico na formação das palavras, dos traços de sobrevivência e do cuidado que é colocado nas entrelinhas que o filme aborda em proximidade com a ruptura do cotidiano – uma fantasia realista construída pelos contornos e detalhes que atingem certa simplicidade, mas permanecem muito reais e vívidos.
Parte desse efeito positivo se dá pela própria ideia central da obra: o retrato de Rục, uma senhora que nasceu numa caverna há mais de 60 anos e agora vive em uma aldeia, cuidando de seus filhos e netos enquanto busca transmitir, a eles, sua cultura, suas objeções em relação à importância do estudo e outros pontos culturais que dão substância à manutenção da relação, da fala – a língua é muito presente – e ao contato de todos ali com o entorno. Torna-se, a partir disso, mais do que um relato isolado, e a maestria de elementos artificiais que se conjuram pela naturalidade da gravação, é o epicentro de toda a descrição dos temas propostos e desenvolvidos aqui. É um aceno constante à delicadeza da paixão e ao cinema de realismo social, feito aqui de forma estilisticamente própria.

Há uma simplicidade muito ditosa em The Plant from the Canaries, que faz do filme e de sua metragem enxuta um fragmento narrativo-expositivo direto, quase como se estivesse ali apenas para dizer o que tem a dizer e pronto, sem pretensões maiores. E é justamente por isso que os acontecimentos na vida de May, uma mulher coreana de trinta e poucos anos, mudam como se um furacão tivesse passado por ela, embora o que a afete sejam coisas comuns, intensificadas pelo sentimento de deslocamento e pela forma como é tratada em Berlim. O filme acerta em cheio ao transmitir essas questões íntimas, que expõem os percalços, mas também sugerem o que pode haver de bom nisso tudo.
Nesse ponto, The Plant from the Canaries atinge com precisão sua proposta de ser apenas um trecho, um recorte de vida retratado sem grandes artifícios ou complicações. É curioso notar como a direção de Ruan Lan-Xi opta por quadros bem delimitados, por uma construção visual neutra – e fria – , pontuada por toques pessoais nitidamente pensados para tornar ainda mais bucólicos os caminhos trilhados por sua personagem, enquanto ela remói memórias, reflete sobre sua situação atual e busca uma forma de sair (ou ao menos esquecer) o que viveu após um término que, para nós, soa como injustificado.
E talvez seja melhor que pareça assim. Estamos aqui para adotar a história de May, e qualquer arbitrariedade que nos aproxime dela é bem-vinda. Há algo nela que a humaniza, que a torna real e palpável, especialmente diante de suas escolhas e do modo como ora nos sentimos com ela, ora distantes dela. O texto demonstra muita sensibilidade nesse ponto: os diálogos em inglês revelam certa distância de quem ela realmente é e sente, ao passo que, quando recorre à língua materna, tudo soa mais afável, íntimo, confortável. E tudo gira em torno disso. É incrível.