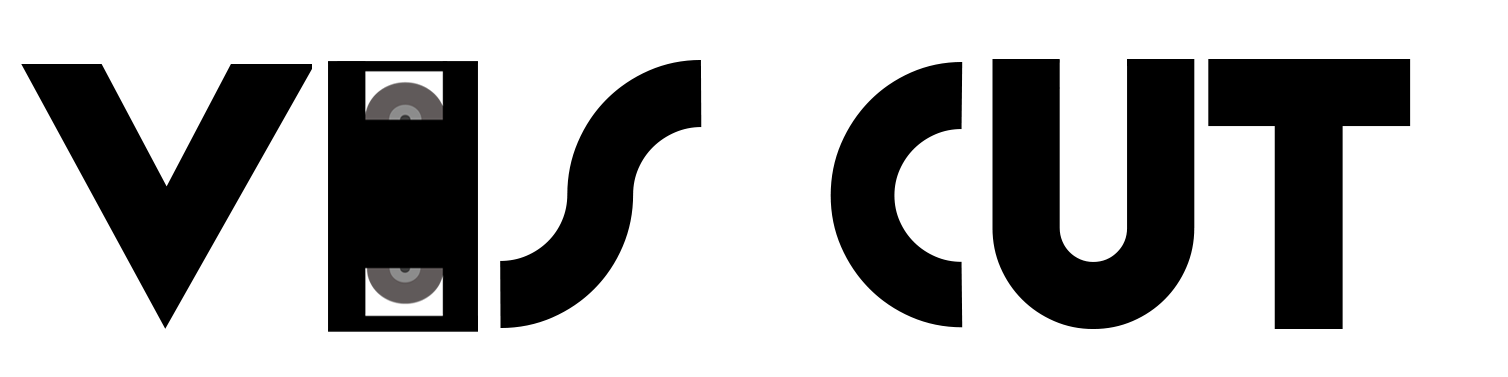Diferentemente da maioria dos filmes sobre utopia, Mare’s Nest, de Ben Rivers, faz da encenação dos atores (aqui, apenas crianças), nesse contexto, parte da âncora que sustenta o filme no mar de ilusões construído pelas imagens do diretor. Esses cenários precisam de pouco para destacar o esvaziamento do mundo, a ausência de adultos e como as crianças se organizam livremente. Diferentemente, novamente, dos filmes utópicos, aqui, as crianças não vivem de acordo com os ditames de alguma figura tirânica; há até uma conexão com isso no encontro com uma criança que domina o conhecimento, mas sua função é mais como um oráculo do que qualquer outra coisa.
As crianças são então vistas dormindo em lugares estranhos, caminhando por ruas vazias, entrando em cavernas e dirigindo carros. Os cenários não são numerosos, mas há muitos toques técnicos para realçá-los, porque se há uma coisa que uma boa direção faz é desafiar essas barreiras ou simplesmente fingir que elas não existem. E Mare’s Nest é sobre isso, pois em seus momentos mais interessantes abandona o tom utópico e assume contornos mais experimentais, com figurações de iluminação, ângulo e captura de imagem que fogem de padrões estilísticos mais profissionais. Busca uma redução e acerta em cheio nos diálogos, que brincam com a política, com a comunicação humana e uma dezena de símbolos que indicam a dominação desta terra que nos abriga apenas pelos pequenos.
É um dos filmes mais interessantes e simples do ano, porque redireciona nossa compreensão das utopias retratadas no cinema para algo novo. Faz isso com certa modéstia e assume riscos que poderiam torná-lo excessivamente atraente – cenas que pendem para um tipo de terror, acenos para dramas visuais mais psicológicos etc. –, mas que, no fim das contas, fortalece sua composição, especialmente por ter flames belíssimos, uma filmagem repleta de boas ideias de ângulos e uma montagem que delimita e compacta toda sua predisposição a retratar uma realidade global, mas o faz em poucas locações. Só que, sempre, com boa vontade.

É de se impressionar, à medida que Donkey Days avança, com seu ritmo e situações que vão se empilhando como se não tivessem fim. São momentos de constrangimento puro, que deixariam Fleabag no chinelo, com esse misto de humor absurdo e por vezes nonsense. É astuto nisso, calculado para nos deixar confortável e fazê-lo com a maior vontade do mundo. E por isso é bom. Um filme cujas relações se penduram numa corda bamba e pende para o desastre e para a reconciliação o tempo todo. As personagens centrais Anne e Charlotte têm, juntas, uma comunicação ímpar, mesmo que opostas uma as outras.
Os instantes em que elas precisam duelar pela atenção de sua mãe, crava no longa uma batalha mental chocante. Os comportamentos saltam da realidade, os diálogos passeiam pelo ambiente como houvesse ali facas prontas e balas no gatilho para serem disparadas. O filme ainda dobra a aposta ao optar por uma imagem simples, que é às vezes muito fria, às vezes muito quente, com contrastes evidentes. Mas o grande acerto está mesmo nas mensagens transmitidas através desses caminhos que são, sim, tortos, misturam insensibilidade com uma sensibilidade única, cujas personagens fazem questão de tratar com certo desequilíbrio. A cena do velório, por exemplo, só pode ser descrita como um conjunto extremamente inteligente de todas as partes, porque tudo ali se culmina, tudo funciona.
São poucos os filmes que tratam de relações familiares com tamanho desdém do que essas relações podem significar. E isso é ótimo, são três mulheres que não têm um único guia, um único sinal do que estão fazendo, se isso é certo ou errado, ético ou antiético. E ao dispensar esse moralismo das estruturas familiares, a direção de Rosanne Pel imprime, sem qualquer sutileza, sua atenção à dita disfuncionalidade, que de disfuncional aqui não tem nada. É um olhar muito puro, uma atenção que não se vê no tema por aí. É refrescante, sobretudo muito bem tematizado e transmutado para as lentes, difícil não se conter, não se enxergar ou não sentir curiosamente por toda a composição usada para criar e dar ao filme esse aspecto direto que ele tem.

No deserto, figuras dançam vestidas como se estivessem em um baile aristocrático, fantasiadas, é claro, devido à distância temporal e física de tal evento, e a um contexto social próximo – e distante, obviamente – ao vitoriano. É uma performance curiosa e arrepiante em momentos-chave, na qual a ex-primeira-ministra Eva Vogler, após causar um escândalo no Banquete do Nobel, se vê perdida entre as dunas, perseguida por uma cópia de si mesma que quer, acima de tudo, aniquilá-la. A partir disso, o filme se baseia em representações visuais que chamam a atenção por sua beleza e simplicidade, e isso, ao mesmo tempo em que é sua força, é também sua fraqueza.
Primeiro, porque se esconde atrás de performances que apelam a uma teatralidade voraz, crua no sentido de ser exatamente o que estamos observando, nada mais, nada menos. Portanto, o filme parece seguir essa construção do início ao fim, com pouca ou nenhuma variação discursiva. São apenas os atores e o deserto, os diálogos e os longos momentos de silêncio que convencem, num sentido psicológico, de que há uma passagem de atmosfera, um ambiente que instiga essa calma, esse aprisionamento entre os grãos de areia. E Anna Eriksson acerta nisso: nessas escolhas mais visuais, marcantes por um lado, que sustentam sua mensagem.
E aqui emerge uma espécie de surrealismo unicelular, pois, embora narre um texto formal — isto é, com personagens, diálogos, tensão e conclusão —, o filme descarta qualquer estrutura para fazê-lo, mergulhando em uma constante antítese temática, como se separasse o texto da imagem. E isso funciona bem, porque os elementos aqui apresentados nada mais são do que coisas naturais, humanas, bem colocadas em nossas mentes, o que ajuda a manter um elo entre onde a diretora pretende chegar e onde ela chega, ou onde ela se encontra. Esse elo permite que E evite ser uma obra de experimentalismo de gênero barato, inventada para causar confusão mental no espectador e, portanto, justificar-se com base em argumentos sobre arte em abstratismos mais comuns.