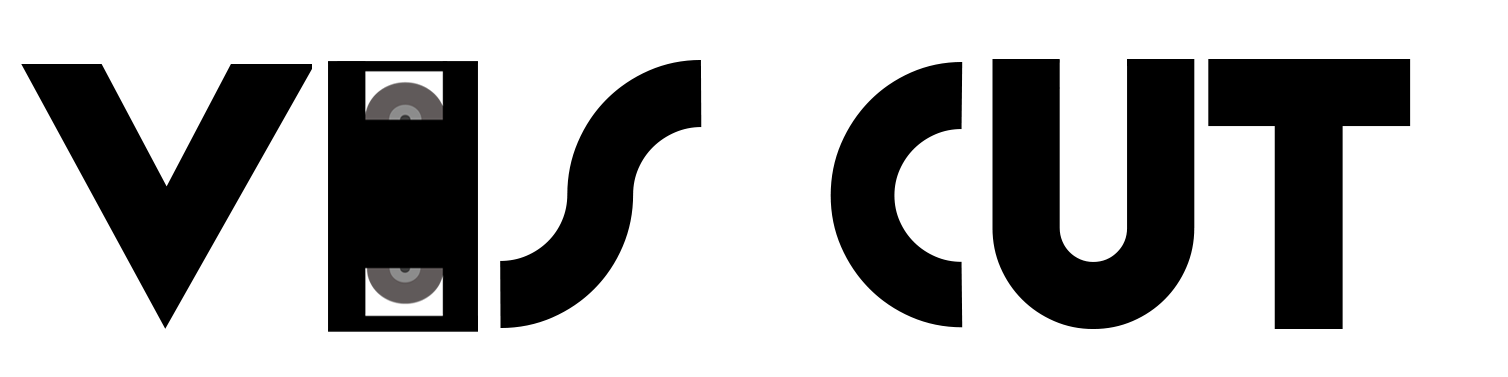Situado em uma vila em Vidarbha, no leste da Índia, “A Match”, filme de Jayant Digambar Somalkar, acompanha Savita, uma jovem estudante de sociologia que está cursando o terceiro ano da faculdade. Savita, assim como grande parte das mulheres da Índia, é constantemente pressionada a arrumar um futuro marido. É através de encontros em sua casa que ela conhece aqueles que são prometidos como o seu “par” ideal. Esses encontros nada mais são do que uma entrevista, onde Savita, cercada de homens, deve responder a perguntas como “qual é o seu tamanho?”, “qual o clã de sua mãe?”, “quais são seus hobbies?”, entre outras perguntas que parecem nunca se aprofundar na complexidade que ela possui como indivíduo. Acontece que, devido à sua pele escura e sua baixa estatura, ela é constantemente rejeitada pelos tais pretendentes. O processo, que parece se repetir como uma maneira de diminuí-la como mulher, interessa a todos, menos a ela mesma. Ela parece decidida e contente com a sua posição na sua sociedade. Sendo uma jovem de vinte e poucos anos, ela tem suas amigas, suas ambições profissionais e pessoais, mas tudo isso parece em vão se ela não conseguir se casar. A pressão social não recai somente sobre ela; seu irmão, por exemplo, não pode se casar com sua pretendente porque a ideia de que ele se case antes dela não é completamente aceita pela sociedade. Seu pai, que trabalha com a colheita e a venda de algodão, também parece sofrer com as questões que cercam a falta de pretendentes para sua filha, tendo sempre que lidar com o questionamento de seus colegas e dos outros moradores da vila.
O filme começa com uma inversão desses valores. Na primeira cena, Savita e um grupo de mulheres cercam um homem enquanto repetem as mesmas perguntas que lhe seriam feitas ao resto do filme. Mas é claro que tudo aquilo não passava de um sonho. Desde o primeiro momento, Somalkar deixa suas intenções bem claras: essa não é uma história de descobrimento. Na verdade, pouco se descobre durante o filme. Nenhuma das dinâmicas sociais e políticas parece ser novidade para qualquer um que possua o mínimo de interesse em explorar outras culturas não ocidentais. O diretor deixa bem claro que todos os envolvidos estão bem cientes do ambiente em que vivem, e é a partir disso que ele desenvolve uma história sobre alguém que decide se opor a tudo isso. Savita é leniente diante de sua situação, por mais degradante que ela seja. Ela compreende que aquilo faz parte da sociedade em que vive e tenta se adaptar à ideia de viver uma vida sob aquelas normas. Quando perguntada sobre seus hobbies, ela responde: costurar, cozinhar e ler. Mas é óbvio que essa não é a verdade. Ela é inteligente demais para ser reduzida a isso, mas decide fazê-lo para poder atravessar esse obstáculo. Na faculdade, a realidade que observamos é outra. Ela parece ser uma das alunas mais experientes e interessadas. É lá também que vemos o seu verdadeiro interesse romântico: um de seus professores. Quando os dois fazem contato visual, é como se o mundo ao seu redor não importasse. É impossível desviar o olhar. São momentos como esse que o diretor evoca momentos semelhantes aos de Wong Kar-wai em “Amor à Flor da Pele”, onde o anseio pelo amor é suficiente para preencher tudo aquilo que os personagens podem não dizer. Mas Somalkar, embora esteja realizando seu primeiro longa-metragem, parece almejar mais do que simplesmente simular um clássico.
O filme pode não ser uma aula de originalidade ou um trabalho audacioso o suficiente para elevar Somalkar a um nível acima do que ele está, mas é inegável a capacidade que ele pode desenvolver com o tempo. Mesmo ao lidar com temas que já têm sido debatidos ao longo dos anos, como o feminismo e a luta pela mudança, o que diferencia o trabalho do diretor é a maneira como ele aborda esses assuntos. Nos últimos anos, o cinema parece ter sido tomado por uma falsa progressão, com abordagens liberais que possuem pouca profundidade política. Quando analisamos trabalhos que confrontam o sistema e o capitalismo, como “Triângulo da Tristeza”, percebemos que a sátira muitas vezes vem acompanhada de uma falsa sensação de igualdade. Não é porque Ostlund fez um filme onde a autoconsciência muitas vezes é retratada de forma caricata que ele realmente reconhece sua posição de privilégio e faz algo para mudar isso. Pelo contrário, isso apenas o torna um cínico. A mesma questão acompanha a pauta feminista, que hoje, mais do que nunca, parece ter adotado uma visão neutra em relação ao que deveria ser um de seus maiores questionamentos: o impacto que o capitalismo tem na perpetuação de um discurso que cria divisões sociais entre homens e mulheres. A pauta feminista tem sido veementemente associada ao liberalismo, com filmes como “Booksmart”, de Olivia Wilde, que se autodenominam progressistas, vinculando a identidade do movimento a mulheres como Hillary Clinton. Ao contrário dos casos citados, Somalkar compreende que o capitalismo não é apenas um dos fatores contribuintes para a situação que as mulheres enfrentam na Índia, mas sim o principal causador.
Quando Savita finalmente encontra um par, tudo se resume ao dinheiro. O casamento não seria algo arranjado, mas sim comprado. O preço dela é definido e não há nada que possa ser feito em relação a isso. Seu pai, que faz de tudo para que ela consiga a estabilidade prometida pelo casamento, começa a buscar maneiras de conseguir o dinheiro necessário para que isso possa acontecer. Ele tenta empréstimos, mas o banco sabe que não haveria como pagar. Ele tenta vender mais algodão para conseguir a quantia, mas o produto está cada dia menos valorizado. É dessa maneira que Somalkar mostra quão desumanizadora toda a questão econômica e social da Índia realmente é. Savita, que é a principal vítima de tudo isso, parece não ter mais sua individualidade. Suas amigas se casaram ou fugiram com seus pretendentes. Ela foi obrigada a dar um tempo na faculdade devido à busca pelo casamento. Então tudo volta para o começo. Como mencionado, não é um filme sobre descobrimento. No último momento do filme, Savita faz a única coisa que pode ser feita: se rebelar contra a tradição.

Sweet Dreams, de Ena Sendijarević, também parece lidar com personagens que se rebelam diante de uma situação de constante abuso e exploração. O filme, que se passa no final da colonização holandesa na Indonésia, mostra como a família do falecido imperador Jan deve lidar com as questões referentes à herança de sua plantação e de seus bens. Acontece que, quando ele decide deixar sua herança para o filho de sua concubina, toda a sua família entra em conflito. Diferentemente de “A Match”, o filme de Sendijarević se desenrola de uma maneira muito mais cômica e caricata, principalmente através da interpretação de Renée Soutendijk, que é absolutamente fascinante como a matriarca. Grande parte do tom cômico da história funciona graças a sua performance, que comanda o filme da mesma maneira como Bette Davis fazia no auge de sua carreira. Ela é calculada ao mesmo tempo que é impulsiva, e o resultado não poderia ser nada menos extravagante.
O estilo de Soutendijk deve levar a comparações óbvias com o cineasta grego Yorgos Lanthimos, mas sua abordagem é muito mais original e bem construída que a dos trabalhos do diretor. Soutendijk transparece a frieza daqueles personagens de uma maneira interativa, nenhum sentimento é introspectivo ou sutil, pelo contrário, tudo é escrachado, desde o conflito entre as classes sociais que entram em uma verdadeira guerra pela herança, quanto a questão política da história, que mostra as diversas maneiras de devastações causadas pelo colonialismo. A diretora mostra como as maiores barbáries aconteciam das maneiras mais banais possível. Mas ela não precisa reduzir seu filme a isso. Através da fragmentação da história por capítulos, Soutendijk é capaz de explorar ao máximo todos os pontos da narrativa, dando o devido tempo e desenvolvimento para que todos aqueles personagens e suas motivações façam sentido e para que, ao final do filme, não fique dúvidas sobre as alternativas possíveis.

Outro filme que também utiliza questões sócio-políticas de um país como pano de fundo para uma história de sobrevivência é “The Rye Horn”, de Jaione Camborda. No filme, Maria, uma mulher que aparentemente leva a vida trabalhando com frutos do mar, também ajuda outras mulheres da Ilha de Arousa a interromperem suas gravidezes. Situado em 1971, o filme retrata o período ditatorial de Francisco Franco, que só chegou ao fim em 1975, após sua morte. Nada na narrativa de Camborda é resplandecente; as questões que envolvem a ditadura são sutis e quase imperceptíveis, mas funcionam de uma maneira que nos ajuda a compreender a necessidade que Maria sentia de fazer mais por aquelas mulheres que precisavam de sua ajuda. Traçando um paralelo com “Vera Drake”, de Mike Leigh, Maria serve como contraponto à doçura que Imelda Staunton trouxe para o papel. Ao contrário dela, Janet Novás, que fez sua estreia no cinema, parece forte e inflexível diante das questões ao seu redor. Ela é firme em seus métodos, em momento algum se coloca em dúvida sua eficiência, até que uma tragédia acontece e Maria precisa fugir.
Ela decide atravessar a fronteira entre Galiza e Portugal, na esperança de que ela consiga viver com segurança. São nos momentos que desenvolvem esse acontecimento que vemos uma Maria diferente daquela que estava na Ilha. Novás agora está se adaptando à situação; ela consegue se encaixar e se ajustar para ser aceita nos lugares. É como se sobreviver fosse tudo o que ela soubesse fazer, e o destino quis que ela tivesse que colocar todo esse conhecimento em prática. Camborda, desde o início, mostra que tem uma visão interessante como diretora. O filme começa com planos longos, seja de Maria realizando os procedimentos para interromper a gravidez ou dos habitantes da ilha realizando atividades cotidianas. Quando precisa lidar com a fuga da personagem, a diretora também consegue se adaptar e transformar os planos em aspectos mais dinâmicos do que anteriormente. No entanto, todos os esforços seriam em vão caso a sua atriz principal não fosse capaz de carregar todas as camadas da personagem. Novás é a descoberta mais fascinante entre os filmes assistidos no festival. Ela possui uma postura e uma segurança difíceis de obter em um primeiro trabalho. Ela comanda a tela como uma estrela, sem nunca transparecer um amadorismo.
Acontece que Camborda parece não saber muito bem como terminar a história de Maria. Da mesma maneira que a própria vive um dia de cada vez, fazendo tudo o que consegue para sobreviver, a diretora também parece focar sempre no que acontece no momento presente. Ela lida com um aspecto por vez e nunca cruza as histórias dos personagens, tanto que grande parte do elenco secundário é pouco utilizado. Ela sabe que todos ao redor de Maria são temporários. É da natureza dela não criar laços. Tudo o que ela faz é sobreviver. Com isso, o final do filme é, de certa forma, ambíguo. Não porque existe alguma dúvida sobre o ocorrido, mas sim porque a diretora e a atriz parecem questionar tudo o que está por vir.